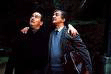MODELOS DE TELEVISÃO: PÚBLICA VS. PRIVADA


Por José Vieira Mendes
‘A televisão não é boa nem má depende do uso que se faça dela’.
Marcelo Caetano
O desenvolvimento da televisão no mundo foi determinado pela dicotomia entre um serviço público e, em oposição, por uma actividade comercial e privada. No entanto, os poderes públicos tomaram para si alguma responsabilidade neste desenvolvimento, considerando que a televisão, devido às suas características muito particulares, deveria ter uma regulamentação distinta em relação aos outros meios de comunicação social. Foi nos anos 40 e 50 que em quase toda a Europa ocidental se constituiu um modelo específico de televisão estatal de serviço público, caracterizado por uns objectivos pedagógicos da oferta de programas e conteúdos formativos aos cidadãos. Em primeira instância, um serviço público televisivo significa igualmente que o Estado é o dono e o detentor do espectro de radiofrequências, por donde são difundidas as ondas hertzianas transmissoras dos sinais e conteúdos de televisão, e como tal, é ele quem concede as frequências e as licenças de emissão aos potenciais operadores privados. Isto é, cabe ao Estado, através de uma legislação pertinente, determinar quem e em que condições podem esses operadores exercer a sua actividade, estipulando parâmetros em relação aos conteúdos mínimos de determinados géneros na programação, ou quotas das mais diversas e outras obrigações a que estão sujeitos esses mesmos licenciados para exercer a actividade televisiva.
A televisão, quer seja ela de natureza pública ou privada, é composta por uma série de objectivos de natureza distinta, que abarcam desde a criatividade dos ‘autores’ para conceberem um determinado conteúdo, até à gestão dos complexos dispositivos tecnológicos essenciais para a emissão e recepção dos sinais televisivos. Neste contexto é possível distinguir basicamente os seguintes objectivos:
* A produção de conteúdos audiovisuais, os quais podem ou não ser concebidos pelo operador televisivo;
* A emissão desses conteúdos a partir da elaboração de uma grelha de programação da responsabilidade exclusiva da estação emissora;
* A difusão do sinal numa determinada área geográfica, da responsabilidade da emissora ou de outras empresas associadas à sua actividade.
Assim, o serviço público de televisão tanto pode referir-se às três actividades mencionadas, tal como aconteceu no passado em muitos países europeus, ou então centrar-se apenas em criar condições para a emissão do sinal televisivo.
Poderemos então fazer uma diferenciação entre serviço público e televisão pública. Apesar destes conceitos serem muitas vezes confundidos, o que é certo é que em muitos países, principalmente os europeus, toda a actividade televisiva é considerada um serviço público; desta forma, uma boa parte da legislação é aplicável igualmente a todas as estações de televisão, independentemente da sua figura jurídica. Por exemplo, o tempo máximo de emissão de anúncios publicitários, as limitações de horário para os anúncios de bebidas alcoólicas, a impossibilidade de emitir certos programas mais violentos antes das 22 horas. No entanto, nem todas as estações de televisão são de titularidade pública, o que pressupõe que elas próprias mantenham, além de uma certa independência dos poderes públicos, também compromissos adicionais estabelecidos com a sociedade em que estão inseridos, e tendo elas próprias os seus órgãos de controlo e tutela empresarial.
Modelos fundadores
São dois os sistemas tradicionais de funcionamento do meio televisivo que se desenvolveram no pós-II Guerra Mundial: o modelo europeu, que se desenvolveu a partir da concepção da televisão como um serviço público gerido pelo Estado, primeiro em situação de monopólio e de um só canal, e cujo “bom” funcionamento era essencial para o conjunto da sociedade. A importância dada à televisão pública está registada nas palavras do presidente Charles De Gaulle, que afirmava que a televisão era a voz da França, e a televisão pública o porta-voz oficial e unificado da nação inteira. Pelo contrário, o modelo norte-americano, comercial e privado, foi aquele em que o Estado não geria nem produzia os conteúdos: um distribuidor ao domicílio de um produto audiovisual.
O modelo europeu
Apesar das mais diversas experiências nacionais, nos países europeus existem certos pontos em comum no desenvolvimento dos seus sistemas de televisão. Na grande maioria dos casos, quer por razões económicas quer políticas, o Estado teve no desenvolvimento das estações de televisão uma forte intervenção, desde a produção dos conteúdos à gestão dos recursos, quer de uma forma directa ou delegada.
No início, partindo da base do limitado espectro de radiofrequências disponíveis pelo qual circulavam os sinais de televisão, e da escassez de um mercado de consumo capaz de garantir a venda razoável de televisores, e garantir a rentabilidade dos investimentos publicitários, as Administrações centrais dos Estados preocuparam-se em gerir um ou dois canais de televisão de cobertura nacional financiados através de um imposto específico chamado canon.
Na base destes sistemas estava a ideia de que a televisão é um excelente instrumento para educar, informar e entreter os cidadãos. A televisão era então vista como um espaço público novo e vital da democracia, que garantia o direito à liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, estava ao serviço do pluralismo cívico. A famosa trilogia de funções e objectivos — educar, informar e entreter, por essa ordem — foi quase sempre compatível com um controlo político efectivo dos Governos no poder, que exerciam a sua visão paternalista em combinação com uma perspectiva elitista da cultura, baseada nos padrões da classe média-alta, sobretudo no caso da britânica BBC-British Broadcasting Corporation, que se tornou num símbolo da cultura nacional. Do conjunto dos sistemas televisivos surgidos na Europa, foi efectivamente a BBC (e ainda hoje continua a ser), a estação com um melhor padrão de um verdadeiro serviço público. A estação mantém-se como uma espécie de estandarte da qualidade de conteúdos, da realização e da independência informativa, visto como modelo a seguir em quase todo o mundo.
O modelo norte-americano
Este modelo foi-se desenvolvendo ao longo de várias décadas do século XX nos EUA, e baseia-se na actividade de empresas de televisão privadas e comerciais - denominadas networks - que foram, à imagem das redes radiofónicas, estabelecendo cadeias emissoras espalhadas pelo território e estados norte-americanos. Mesmo neste contexto, o Estado reservou um certo controlo do funcionamento do sistema televisivo, criando nos anos 50, a famosa FCC (Federal Communications Commission). Foi exactamente nessa década que a FCC procurou estabelecer as regras-chave para uma ordenação do sistema audiovisual naquele país: impôs um limite à quantidade de estações ligadas em cadeia (não mais de sete), reduziu-lhes a percentagens mínimas a produção de conteúdos próprios e proibiu ainda que os grandes estúdios cinematográficos de Hollywood se tornassem os proprietários dos canais de televisão.
O sistema desenvolveu-se com a presença de três grandes networks nacionais que ainda hoje se mantêm no enorme espectro audiovisual nos EUA: NBC, CBS e ABC. As cadeias estavam organizadas em redor de uma estação emissora-mãe unida a uma ampla rede de emissoras associadas, que emitiam entre 80 a 100 horas semanais de programação gerida pela estação central, completando as suas emissões com programação local. Fora do sistema privado nasceu ainda em 1969 a PBS-Public Broadcasting System, uma empresa de televisão não comercial, que emergiu basicamente da sociedade civil, financiada através de um misto de dinheiros públicos e financiamentos privados (fundações, associações cívicas, universidades e particulares.)
A televisão pública: fontes de financiamento
A televisão pública, principalmente na Europa Ocidental, é financiada basicamente através de quatro formas:
1. O pagamento de um imposto directo por parte dos proprietários dos televisores, denominado canon;
2. Os subsídios públicos provenientes dos respectivos OGE;
3. As receitas publicitárias provenientes da venda de espaços;
4. A venda de programas nos mercados internacionais, em quantidades significativas, isto mais no caso britânico, e residual em outros países.
O financiamento das estações públicas através do canon esteve efectivamente na base do modelo europeu de televisão. Estas receitas conseguiram dar às estações a independência necessária para não se sujeitarem à pressão dos anunciantes ao nível dos conteúdos, como aconteceu nos EUA, ao mesmo tempo que comprometia as emissoras, numa ‘perspectiva generalista’, a satisfazer, mediante uma programação adequada às várias horas do dia, as necessidades de todos os públicos sem ter em conta a ‘ditadura das audiências’.
O canon era um imposto que estava ligado ao facto de se possuir ou não um televisor; habitualmente pagava-se com uma periodicidade anual, tal como acontece com outro tipo de impostos conceptualmente similares, como por exemplo o imposto de circulação automóvel.
As receitas que as televisões públicas obtinham do canon foram sendo cada vez menores nas últimas décadas, em primeiro lugar devido à impossibilidade de manter um controlo sobre as vendas de televisores. Efectivamente, as receitas provenientes da publicidade vieram algo tardias, começando timidamente nos anos 70, e mesmo assim controladas de forma severa pelas distintas administrações. Só mesmo nos anos 80 e 90, com o advento da televisão comercial e privada, a publicidade tornou-se também uma fonte de receitas fundamental para muitas cadeias públicas. Analisando o panorama actual das televisões públicas na União Europeia, encontramos várias formas de financiamento:
1. Um financiamento basicamente feito através de um canon televisivo: Grã-Bretanha, Alemanha e países nórdicos.
2. Um financiamento misto que compreende tanto as receitas provenientes do canon como os da publicidade: Irlanda, Países Baixos e Áustria;
3. Um financiamento público, canon e publicidade: França, Itália e Bélgica;
4. Um financiamento maior proveniente da publicidade e marginalmente um financiamento público (subsídios ligados a concessões ou contratos programas): Portugal e Espanha.
A televisão privada: fonte de financiamento
A televisão como negócio inclui, em princípio dois grandes sectores de actividade: por um lado a produção e compra-venda de conteúdos, e por outro, a venda de tempo de difusão a anunciantes publicitários. A televisão privada, baseada no modelo de funcionamento das estações de rádio comerciais, teve o seu impacto nos EUA, mas foi um modelo que se estendeu a outras regiões, como por exemplo a alguns países da América Latina (caso do Brasil).
Em relação à venda de programas, são poucos os países ou produtoras que têm capacidade para ultrapassar as fronteiras nacionais. Mas há, pelo menos, o caso dos EUA, e em menor grau as estações privadas (e públicas) da Grã-Bretanha, que o conseguem com algum êxito. Para além desses, alguns casos específicos de formatos como a “anime” japonesa ou as telenovelas brasileiras e sul-americanas, que conseguem valores significativos na exportação de conteúdos. Recentemente, a produtora holandesa Endemol tem sido um caso raro de sucesso de mercado, inclusivamente vendendo alguns formatos nos EUA (Big Brother) e praticamente em toda a Europa. No entanto, há alguns anos que investigadores no âmbito dos meios de comunicação de massas defendem que o verdadeiro negócio das empresas de televisão é vender audiências aos anunciantes publicitários. Daí que os programadores de televisão tenham que ser cada vez mais competentes no momento de captar a atenção de homens e mulheres, ricos ou pobres, de adultos ou dos mais pequenos... Por seu lado, os anunciantes conceberam a televisão como um meio privilegiado para chegar à intimidade do lar de cada família e para lhes oferecer as suas marcas e produtos. Deste esquema deriva a importância suprema de procurar a rentabilidade máxima das audiências no momento de conceber uma grelha de programação. O rating, a unidade de medição de audiências televisivas, é um indicador de referência central para a definição das tabelas publicitárias, ao assinalar um valor (custo/contacto) ao número de pessoas que vêem um determinado programa e, consequentemente, são atingidos pela publicidade inserida nesse mesmo programa. Assim, em geral, anunciar nos programas mais vistos é mais caro, pois pressupõe para o anunciante uma audiência mais elevada para os seus anúncios comerciais. No entanto, a proliferação de cadeias de televisão com as mais variadas ofertas temáticas torna cada dia mais discutível esta questão. É cada mais complicado conseguir êxitos históricos de audiências, já que a diversidade de opções audiovisuais deu lugar a uma cada vez maior especialização no momento de investigar os chamados perfis de audiência das cadeias de televisão e dos programas. Para publicitar já não é tão decisivo o maior rating, mas também o perfil dos telespectadores (idades, sexo, nível educativo, nível sócio-económico, “hobbies”, etc.) mais adequado ao produto a anunciar. Por último, cabe ainda assinalar que se é certo que os anunciantes e as suas mensagens publicitárias incidem nos conteúdos oferecidos pelas televisões, também já se verifica o fenómeno contrário: os efeitos sobre novas formas de negócio que podem chegar a estar no conceito de determinados programas, produzindo espectaculares entradas de dinheiro através das chamadas telefónicas (fixas ou móveis) e dos SMS utilizados pelo público para votar, interagir com o programa ou com os seus participantes.
BIBLIOGRAFIA:
LIVROS:
CAZENEUVE, Jean (direcção de)
Guia Alfabético das Comunicações de Massas, Lexis, Edições 70, Lisboa, 1976, 300 pág.
BUSTAMANTE, Enrique
La Television Económica, Gedisa Editorial, 2ª edição, Barcelona, 2004, 220 pág.
CÁDIMA, Francisco Rui
O Fenómeno Televisivo, Circulo dos Leitores, Lisboa, 1995, 230 pág.
VASCONCELOS, António-Pedro
Serviço Público Interesses Privados- O Que Está Em Causa na Polémica da RTP, Oficina do Livro, Lisboa, 260 pág.
LOPES, João
Teleditadura-Diário de Um Espectador, Quetzal Editores, Lisboa, 1995, 317 pág.
MCLUHAN, Marshall
Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem, Cultrix, São Paulo, 1979, 407 pág.
REVISTAS:
Comunicação e Linguagens Nº23: O Que é o Cinema?, Edições Cosmos, Lisboa, 1996, 260 pág.
Comunicação e Linguagens Nº9: Televisão-Estratégias, Discursos e Tecnologias, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, Lisboa, 1989, 240 pág.
Comunicação e Linguagens Nº8: Jornalismos, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens Lisboa, 1988, 223 pág.